À liberdade do erro
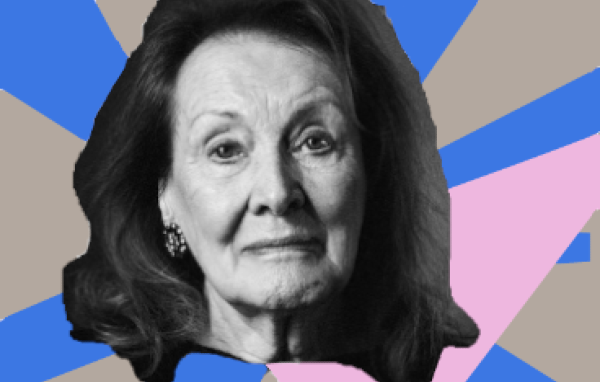
Em La place (O lugar), Annie Ernaux nos apresenta um breve e honesto memorial de seu falecido pai. Ninguém deve ficar surpreso ao notar que, conforme vasculha e organiza suas lembranças, ela calmamente executa a autopsia de seu remorso. Muitos anos antes que Elena Ferrante explorasse em sua tetralogia sentimento parecido, Ernaux se apresenta como a filha intelectual e sofisticada de um homem simples (para não dizer simplório) que se lançou no jogo da ascensão social – da infância no pastoreio à vida adulta no chão da fábrica, para enfim se frustar e exaurir como pequeno comerciante.
La place é um relato, ora veja, sobre este lugar que o pai tentou criar para si com muito suor e privações, porém que conseguiu garantir apenas à filha, como uma ambígua herança. Ambígua, porque trilhar o caminho de uma educação formal e aceitar as oportunidades que ela oferece significou recusar o pai, seus modos, suas origens e, finalmente, a si mesma. Trata-se, portanto, da história dos paradoxos familiares entre um lugar (que o pai desejou e nunca ocupou) e um não-lugar (o limbo que a filha não desejou e ocupou).
Ernaux fez mais. Ela escreveu uma narrativa num francês impecável para se vingar desse mesmo idioma, como um manifesto de sua língua paterna. Uma citação de Jean Genet abre sua história: "Arrisco uma explicação: escrever é o último recurso quando se traiu." É tocante a passagem em que ela conta que o pai, de tão envergonhado de seu "mau francês", emudecia diante de interlocutores que ele considerava superiores:
Para meu pai, o patoá era uma coisa antiquada e feia, um traço de inferioridade. Ele se orgulhava por ter, em parte, conseguido se livrar dele. Ainda que seu francês não fosse bom, pelo menos era francês. (...)
Era tagarela no café e com a família, mas, na frente das pessoas que falavam de forma correta, ele se calava, ou parava no meio de uma frase, dizendo apenas “não é mesmo?” ou simplesmente “não é?”, com um gesto convidando a pessoa a compreender e ele seguir em seu lugar. Sempre falar com precaução, medo inominável de dizer uma palavra errada, que teria um efeito tão desagradável quanto deixar escapar um peido.
– Annie Ernaux, em O lugar (1983)
Podemos chamar de insegurança linguística esse forte sentimento de inadequação de alguns falantes, ele nos indica que a língua é um dos campos onde conflitos de classe e hierarquias sociais se reiteram. Mais do que medo de errar, é um medo do olhar do outro, do julgamento, do veto à legitimidade que se busca ter dentro de uma comunidade. Uma sólida formação em língua nativa confere ao falante o privilégio de navegar os registros e adaptar sua comunicação de acordo com as nuances de cada situação, de cada interlocutor, de cada intenção em jogo.
Eu cheguei nesse trecho enquanto pensava no desconforto de alguns alunos de FLE. Não é a mesma coisa, a insegurança linguística de um falante em relação ao seu idioma nativo e ao idioma estrangeiro; e contudo, vejo aí um solo comum.
Para a maioria dos lusófonos, o francês é a segunda, senão terceira língua estrangeira aprendida – além, claro, de frequentemente haver um bom domínio do português. Porém, a despeito dessa inegável aptidão linguística, surgem em aula bloqueios e travas reais, uma vergonha de falar, um medo de errar. Uma parte importante do meu trabalho é construir um ambiente propício ao experimento, ao improviso e, consequentemente, à liberdade do erro. E eu acho que os alunos sabem disso, traquejados que são em aprender idiomas. Não impede que uma autoconsciência profunda e crítica se apresente e torne o erro uma experiência constrangedora.
Tenho minhas hipóteses. Aprender uma língua estrangeira nos coloca num lugar ambíguo e incerto, um pouco como a narradora de La place. Mas se ela precisou se equilibrar entre as distensões dos polos escolar e familiar, a um aprendiz estrangeiro duas instâncias contraditórias convergem. A nova língua amplia nosso repertório linguístico e cultural, mas ao mesmo tempo, nos mantém num estado de limitação que, embora temporário, é severo enquanto dura.
Para quem está habituado a manejar a(s) língua(s) já conhecida(s), a fase de tatear para exprimir ideias simples e ouvir a própria voz hesitando pode ser difícil. Aqui também, eu acho, o medo de errar é antes uma manifestação do medo do veto, do julgamento (próprio e de quem quer que detenha a legitimidade do "verdadeiro idioma"). Em suma, aprender uma língua estrangeira implica abrir-se ao outro e, às vezes, passar a temê-lo também.
O esforço pedagógico, em primeiro lugar, deve operar para desmistificar o erro, destituí-lo de sua carga moral e vexatória. Lembrar aos alunos que erros estão presentes nas falas e nos textos de qualquer falante de qualquer idioma em qualquer registro. E que um desvio, cometido por muitos falantes ao longo de muito tempo, tende a se tornar a norma.
Segundo, é preciso deixar claro que num processo de ensino, o erro é matéria-prima do professor. Com os erros nós podemos inferir em que ponto do aprendizado o aluno está, o que falta aprender e, especialmente, como ele aprende, quais estratégias funcionam melhor. A correção, ofício delicado que os professores passam a vida aperfeiçoando, só existe em função da falha. Os erros são burlas que o pensamento faz para resolver os problemas que se apresentam, percorrer seus próprios caminhos, desenhar seus próprios mapas.
Terceiro e mais importante: os humanos aprendem, falam e traduzem línguas estrangeiras há pelo menos 5 mil anos, nossa espécie dependeu e ainda depende disso para existir. A decisão de aprender um novo idioma é uma dessas concessões que fazemos à curiosidade, à mudança, à pluralidade. É um gesto de afirmação a um horizonte um pouco maior. E isso já basta para se sentir mais capaz na vida, não menos. Jamais menos.
